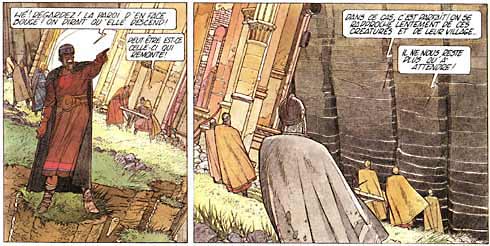|
|

|
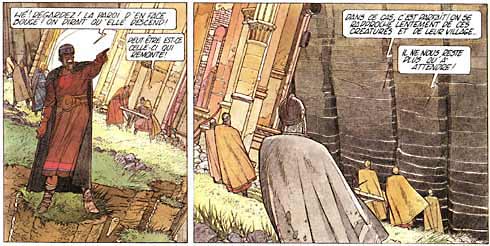
alcmeno bastos
o poeta e o bruxo: dialogismo e alusividade na
poesia de Drummond
A poesia de Carlos Drummond de
Andrade apresenta, desde o primeiro livro pu-blicado, Alguma poesia
(1930), até o último, e póstumo, Farewell (1996), um acentuado tom
dialógico. Desse recurso se vale o poeta para exprimir um ponto de vista
subjetivo, isto é, o posicionamento de uma individualidade perfeitamente
caracterizada em intera-ção discursiva com um outro. Contudo, tal
subjetivismo, por se manifestar dialogica-mente, impede a rotulação de sua
poesia como confessional, no sentido de utilização do poema como veículo
de queixas pessoais. Exemplo altamente expressivo desse dialo-gismo é, sem
dúvida, o “Poema de sete faces”, portal introdutório não apenas aos
poe-mas do livro de estréia, mas a toda a obra poética de Drummond. Nesse
poema, como é sabido, o poeta se coloca sob o vaticínio de um “anjo torto”
que lhe recomenda / ordena, em discurso direto: “Vai, Carlos! ser gauche
na vida”. Além dessa fala inicial do “anjo torto”, nas três últimas
estrofes o poeta convoca, em construções a que não falta o pro-tocolar
vocativo, outros interlocutores: Deus – “Meu Deus, por que me
abandonastes”; o Mundo – “Mundo mundo vasto mundo”; e um tu não
identificado (“Eu não devia te dizer”), que coroa o percurso poético pelas
“sete faces” do poema com intrigante ambi-güidade, pois essa segunda
pessoa pode tanto ser um outro a quem o poeta se dirige quanto ele mesmo,
o “Carlos” merecedor do prenúncio insolente do "anjo torto".
Sendo um traço recorrente de toda a poesia drummondiana, o dialogismo pode
ser encontrado também naqueles poemas em que se tematiza a obra de algum
outro es-critor. Foram objeto desse gesto poético, dentre outros, Fernando
Pessoa, Manuel Ban-deira, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima.
Deteremos nossa atenção no poema “A um bruxo com amor”, de A vida passada
a limpo (1959), que fala de Machado de Assis, para demonstrar que tais
poemas não são simples composições laudatórias, nem de-monstrações das
afinidades literárias de Drummond, nem confissão de influências
expe-rimentadas, mas proveitosa visitação aos domínios da obra, poética ou
não, do autor homenageado. A persona poética drummondiana não se apaga em
presença dessas figu-ras homenageadas, mas se afirma vigorosa, levando o
leitor ao contato, no mesmo texto, com dois universos literários
distintos: o drummondiano e o do outro.
Em "A um bruxo com amor" o dialogismo se explicita já no título, com jeito
de dedicatória repassada de afeto alusivo ao “bruxo do Cosme Velho”,
epíteto consagrado nas referências a Machado de Assis. O poema se abre com
uma menção à casa da Rua Cosme Velho, onde morou Machado, e assim se
estabelece a relevância do cenário da visita, desenhado em perfeita
consonância com o que será dito do anfitrião: "Em certa casa da Rua Cosme
Velho / (que se abre no vazio) / venho visitar-te;" Trata-se de um
ambiente de calma e recolhimento, uma sala “trastejada com simplicidade",
parcamente iluminada (?) pela luz “que não vem de parte alguma”, já que
"todos os castiçais / estão apagados”. Além do espaço físico, o outro
suporte existencial, o tempo, é marcado pelo “som do relógio, lento, igual
e seco”, também condizente com a cordialidade um tanto fria do anfitrião.
E a distância objetiva e biográfica entre o tempo do poeta-visitante e o
tempo do anfitrião é rasurada, pois esse mesmo relógio marca tanto o tempo
de agora quanto o tempo passado, “o tempo da Stoltz e do gabinete Paraná”.
A atenção do poeta-visitante se fixa, pois, na transcendência do relógio,
visto não como objeto apenas útil, mas como testemunha das duas dimensões
fundamentais do tempo / existência humana: o passado e o presente.
O terceiro e mais importante elemento do quadro, o próprio Machado de
Assis, o “bruxo”, é também mostrado em meio tom. Casam-se, portanto, de
modo harmonioso o homenageado e suas circunstâncias externas. O poeta
refere o “cansaço nos gestos”, a “meia voz” com que ele canta “as maneiras
de amar e de compor os ministérios”, na figuração de um Machado já
composto no seu retrato definitivo, provavelmente viúvo da Carolina a quem
foram dedicados os “pensamentos idos e vividos” do celebrado so-neto "A
Carolina": "Que eu, se tenho nos olhos malferidos / Pensamentos de vida
for-mulados, / São pensamentos idos e vividos" (itálicos nossos). Nessa
aproximação ines-perada do particular, da vida íntima, isto é, das
“maneiras de amar”, e do coletivo, da vida política, isto é, das maneiras
de “compor os ministérios”, temos a primeira apropri-ação alusiva de um
processo discursivo característico de Machado, qual seja a junção de
elementos aparentemente díspares. Deste modo, também na dimensão da
linguagem temos não apenas a homenagem, mas de certo modo o próprio
homenageado, naquilo que lhe é mais característico – a expressão
literária. E quando fala do “rosto antigo” do anfitrião, o poeta-visitante
nele surpreende uma expressão indefinível, para a qual não acha “nome
certo”. Também aqui ocorre apropriação de um processo discursivo do
ho-menageado, pois essa descrição que não descreve segue o vezo machadiano
de recusar a pretensa objetividade dos retratos exatos. Essa aparente
inexistência de emoções tem em si a força voluptuosa dos que sabem ler nos
silêncios das páginas em branco, dos que são lascivos da lascívia mais
perturbadora, a lascívia do “nada”, conforme a lição de Pandora a Brás
Cubas: “Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada.”
A partir do verso que fala dos “pensamentos idos e vividos”,
intensifica-se a re-corrência alusiva, naquilo que se poderia chamar de
dialogismo implícito, pois convo-cam o conhecimento que o leitor tenha de
aspectos da obra machadiana sem indicação ostensiva das fontes. As alusões
prosseguem, agora com a chamada à cena de algumas personagens da ficção
machadiana: “Lobo Neves” e sua “geologia moral”, o enfermeiro Fortunato e
seu macabro prazer vivissecador, o Conselheiro Aires e seu distanciamento
blasé, de alguém não se abala com “a guerra, o murro, a facada” e a tudo
reduz como expressão possível do humanitismo do infortunado Quincas Borba.
Segue-se pequena, mas altamente expressiva, galeria de personagens
femininas, metonimicamente destaca-das por seus olhos e seus braços,
justamente as partes do corpo da mulher nas quais o narrador machadiano
sempre se deteve com paciente e cúpido vagar: Flora: "com olhos dotados de
um mover particular / entre maviosos e pensativo"; Marcela: "a rir com
ex-pressão cândida"; Virgília: "cujos olhos dão a sensação singular de luz
úmida"; Maria-na: "que os tem [os olhos] redondos e namorados"; Sancha:
"de olhos intimativos"; D. Severina, Conceição e, muito especialmente,
Capitu, a de “olhos abertos como a vaga do mar lá fora”.
A estrofe seguinte é de corte
tipicamente drummondiano, no que tem de especu-lação sobre o mistério de
existir, para o qual, aliás, não haverá remédio “senão existir”, mas
conserva a informação de origem: a dubiedade irresolvível, senão a
gratuidade fundamental do crime de viver “e porventura o de amar / não se
sabe a quem, mas amar?” Mas logo na estrofe seguinte reaparece o tom
dialógico, na caracterização do anfitrião como “bruxo alusivo e
zombeteiro, / que revolves em mim tantos enigmas”, e no empréstimo
machadiano da desalentada conclusão de que “Todos os cemitérios se
parecem”. Finalmente, a última estrofe tem mesmo certo tom surreal que
contraria o realismo da figuração anterior. De súbito, a um “som remoto e
brando”, que "rompe em meio a embriões e ruínas, / eternas exéquias e
aleluias eternas, / e chega ao despistamento de teu pencenê", como que
atendendo a um chamado, de Oblivion – isto é, o esquecimento, imagem usada
por Machado nas Memórias póstumas de Brás Cubas – que "bate à porta e
chama ao espetáculo / promovido para divertir o planeta Saturno", o
anfitrião, talvez indiferente à presença do poeta-visitante, fecha a porta
à chave, e “qual novo Ariel, sem mais resposta”, sai pela janela,
dissolvendo-se no ar, deixando-o só, na sala vazia.
Não há, no poema inteiro, uma
só loa ao “bruxo” Machado de Assis. No entanto, fica patente o respeito
admirativo do poeta por essa figura na aparência tão pouco atra-ente, por
esse hospedeiro que nada faz para agradar a visita. O Machado de Assis que
pode ser observado no poema, apesar de situado na casa onde efetivamente
morou gran-de parte de sua vida – a casa do Cosme Velho –, e de algumas
indicações quanto à sua aparência física e a seus modos contidos, é antes
de tudo o Machado de Assis literário. É pela recorrência alusiva que o
leitor re-conhece Machado. Na verdade, somente o leitor familiarizado com
a obra machadiana, capaz de compreender o peso alusivo de tantas
expressões, de tantos nomes e situações que atravessam o texto, somente
esse leitor íntimo de Machado entra, na companhia do poeta, na casa do
Cosme Velho. Esse domínio do universo machadiano veda o ingresso na
intimidade do bruxo àqueles que lhe são estranhos. Drummond, portanto, não
apenas expressa sua estima por um grande vulto das letras e repassa aos
leitores esse afeto. A dicção é crispada, o leitor vê-se obri-gado a
dialogar com dois universos: o machadiano, marcado pelo meio tom, pelo
ceti-cismo altaneiro, e o universo drummondiano, envolto nas questões
fundamentais da existência humana e sem receitas simplificadoras.
ALCMENO BASTOS
é
ensaísta, pesquisador de narrativas brasileiras e interdisciplinaridade,
autor, entre outros, de A História foi assim: o romance político
brasileiro dos anos 70/80. É professor adjunto do curso de Letras da UFRJ.
voltar ao índice |
imprimir
|