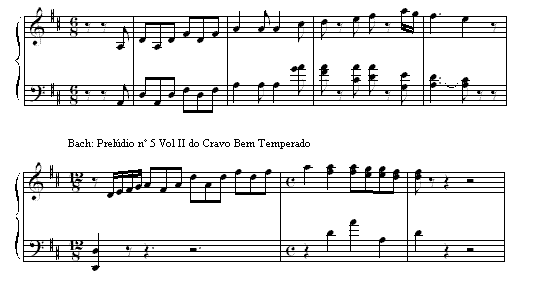|
|

|

ernesto hartmann
variações sobre plágio
A reprodução integral de uma
propriedade intelectual e ou artística é denominada plágio. A palavra
plágio tem sua origem no grego plágios, que significa oblíquo, assinar ou
apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem), imitar
(trabalho alheio). Esta definição necessariamente convoca os conceitos de
autenticidade e originalidade.
Autenticidade, originalidade e cópia na música são definições flutuantes.
Seus conceitos precisam ser sempre interpretados de acordo com o contexto
histórico. Alguns grupos sociais não compreendem na sua organização estes
conceitos de autoria. Na música coletiva dos índios, por exemplo, não
existe, e nem tem sentido, a idéia de propriedade intelectual. Devido ao
fato do seu patrimônio intelectual e artístico ser perpetuado pela
oralidade, há muito se perdeu (se é que em algum dia houve) a noção de
quem foi o autor de um determinado canto ou quem inventou determinada
técnica. Este é, para eles, um dado irrelevante. Muitos fatores que não
são do escopo deste trabalho investigar, mas que são úteis para a
compreensão desta situação particular, dizem respeito à organização
sócio-econômica das tribos. Como de um modo geral o princípio dominante de
propriedade é o do coletivo e não do privado, também a produção cultural e
artística pertence a este mesmo coletivo. Aliado a isto, a freqüente
conotação religiosa da música para estes povos resulta em uma diferente
interpretação do conceito de propriedade artística.
A partir da invenção da imprensa e das primeiras edições impressas em
música, em meados do século XVIII, a profissionalização de editoras e a
sua especialização em editoração de partituras tornam-se uma conseqüência
natural. Anteriormente, o próprio compositor era o responsável pela
produção das cópias das suas obras e pela distribuição das mesmas. Johann
Sebastian Bach, por exemplo, além de criar seu próprio papel de música
(inexistente como produto de consumo na sua época), copiou do próprio
punho vários exemplares das Partitas para teclado. Além disso, ele
pessoalmente as ofereceu e enviou por correio para seus compradores com
objetivos pecuniários. O compositor, principalmente os menos abastados,
como era o caso de Bach, era responsável por praticamente todo o processo
de criação, editoração e distribuição de sua obra. Alguns compositores que
dispunham de uma melhor estrutura, seja devido a sua condição financeira,
seja por sua colocação, tinham já nesta época à sua disposição alguns
profissionais auxiliares nesta tarefa como copistas e revisores. É o caso
de George Friederich Haendel e George Phillip Telemann, que gozavam de
grande prestígio no início do século XVIII. Naturalmente, no caso de Bach
e da maioria de outros contemporâneos, a diferença entre as edições varia
desde a simples distribuição de ornamentos, até mesmo a existência de
versões da mesma obra em tonalidades diferentes. A Abertura Francesa BWV
831, que existe em duas versões, uma em Si menor e outra em Dó menor,
ilustra bem esta última situação.
Também existia o problema da atribuição da autoria. Como todas as cópias
eram escritas a mão (freqüentemente pelo próprio interessado na obra, que
as copiava pessoalmente para seu uso), muitas vezes o proprietário da
cópia acabava recebendo os méritos pela autoria, pois, não sendo
encontrada a página ou escrito que determinasse o autor, os estudiosos,
ainda sem muito rigor metodológico tendiam a assumi-lo como autor
(excetuando no caso em que fosse identificada a caligrafia conhecida de um
copista). Assim, muitas obras atribuídas a Bach pelo simples fato de terem
sobrevivido somente em cópias pertencentes a ele, na verdade são obras de
outros compositores. Entre elas podem ser destacadas algumas pequenas
danças de Karl Phillip Emanuel Bach, Johann Christian Bach e Christian
Petzold entre outros. Devido a estudos de musicologia melhor fundamentados
atualmente em critérios estilísticos e históricos, até mesmo acredita-se
que algumas obras sejam de autoria de Telemann. Isto em nada minimiza a
grandeza de Bach, pois sua obra é tão vasta, e de tão elevada qualidade
que mesmo com a perda de alguns belos exemplos, ela se mantém no mesmo
patamar. Por outro lado, a atribuição de um nome legitimado pela tradição
cultural européia permite um maior interesse sobre compositores menos
conhecidos. Isto gera uma vantagem significativa em termos de pesquisa.
Através do estudo sobre estes compositores, poder-se-á ter uma idéia muito
mais ampla das correntes estilísticas e dos procedimentos composicionais
de uma determinada época e local do que do estudo exclusivo dos
denominados “mestres do estilo”.
Como já foi abordado, a utilização de idéias musicais alheias como
processo de composição deve sempre ser compreendida através de uma
contextualização histórica. O que hoje é considerado abertamente um
plágio, em certos momentos foi compreendido como uma solene homenagem. A
utilização por Haendel de temas de outros compositores ocorre de forma
sistemática. Essencialmente para o estilo da primeira metade do século
XVIII, o tema em si não possui tanto valor, valor este, que reside sim nas
transformações que ele sofre ao longo da obra. A teoria dos afetos, pela
sua própria natureza subjetiva, pressupõe as múltiplas possibilidades de
elaboração do argumento. Em sua grande maioria, as formas deste período
(ou ao menos as mais utilizadas) são, a rigor, monotemáticas, o que
facilita a valorização do argumento em oposição à idéia. Duas fugas podem
ser compostas com o mesmo tema e percorrerem trajetórias e elaborações
absolutamente distintas, sem que isso gere um decréscimo ou acréscimo
qualitativo. Como prova do valor equivalente de elaborações distintas,
existem, além da Arte da Fuga de Bach, uma infinidade de obras compostas
com as mesmas propostas temáticas. Em situações extremas, movimentos
inteiros eram copiados de outros compositores, sendo observada esta
prática com freqüência na música de câmera.
No século XVIII, a utilização do tema com variações dá continuidade a esta
prática. Aqui também a apropriação de um tema de outro compositor ganha
seu espaço lógico na estrutura racionalizante do período clássico. Mesmo
sendo a escolha da temática desta obra de natureza livre (pode ser um tema
original ou um tema de outro compositor), a maioria apresenta ainda a
utilização de temas de terceiros. Possivelmente esta preponderância se
deve ao fato de as variações derivarem ou ainda estarem muito próximas da
improvisação, que era o fundamento dos cada vez menos freqüentes “duelos”
entre compositores. Nestes duelos, os compositores improvisavam sobre
temas dados e eram “avaliados” por um grupo que atribuía a vitória a um ou
a outro.
Como a prática da turnê estava se instituindo, também para serem
agradáveis ao público local, muitos compositores (que, naquela época, eram
sempre além de autores, intérpretes) improvisavam sobre temas locais ou
sobre temas de compositores da preferência local. Possivelmente muitas
destas improvisações se tornaram composições após reflexão dos seus
autores, contribuindo para a formação de um repertório de variações
constituído na sua maior parte por obras sobre temas de terceiros.
Já no século XIX, a vigência do subjetivismo e a predominância do conceito
do indivíduo se tornam incoerentes com as práticas utilizadas nos períodos
anteriores, afinal a música burguesa do século XIX era a afirmação do eu,
do individual, do original. Nos seus primórdios, o estilo romântico
valorizava muito mais o conteúdo melódico-temático do que a elaboração –
em antítese à tradição clássica. Neste panorama, a utilização de um tema
alheio se dá quase que exclusivamente na forma de variação, com o intuito
de tributo ou homenagem. Algumas exceções, entretanto, podem ser
observadas. A mais notável é a utilização de um tema popular atribuído
então como folclórico, o que vem a corroborar com as tendências
nacionalistas deste movimento.
Como os compositores se deparavam com as ampliações nos limites de
textura, idioma harmônico, além dos novos recursos melódicos e rítmicos
empregados, mais distantes as idéias se tornavam, gerando formas de
expressão cada vez mais diferenciadas entre eles. Este fator certamente
contribuiu para uma crescente dificuldade de adequação de uma idéia
temática alheia. Paradoxalmente, esta prática não foi banida, apenas
revista. Se a utilização de uma idéia de outro compositor não mais condiz
com o código ético-profissional vigente e representa um elemento estranho
à linguagem, por outro lado ela pode, neste contexto, significar a
reinterpretação de um recurso timbrístico, uma progressão harmônica, algum
recurso instrumental específico ou algum outro parâmetro ou conjunto de
parâmetros.
Já no final do século XIX uma tendência, observada algumas décadas antes
em Brahms, que desponta simultaneamente com a musicologia e a pesquisa de
campo, aponta para a apropriação direta da música folclórica.
Freqüentemente, e não como regra geral, esta música é de domínio público.
Compositores como Copland, Stravinsky e principalmente Bártok utilizam
temas folclóricos retirados da pesquisa de campo, muitas vezes feitas por
eles mesmos. Estes temas podem aparecer fragmentados ou até mesmo
integralmente em suas obras. Neste momento, a referência é destacada, com
informações, mesmo que superficiais, sobre a localidade e coleta do
material empregado, além da autoria, se conhecida.
A crescente complexidade da rítmica e as novas alternativas harmônicas
advindas das correntes pós-tonais impõem ao ambiente expressionista uma
diversidade pouca ou jamais vista de linguagens e estilos síncronos na
música européia. É claro que esta diversidade é fator impeditivo da
chamada cópia ou plágio, da apoderação literal de uma idéia estranha à
linguagem do compositor. Conseqüentemente, uma obra que se dispusesse a
esta proposta de apoderação temática deveria, quanto mais se afastasse da
estética romântica, rever mais profundamente a idéia sob a ótica da
linguagem do compositor, o que necessariamente resultaria em uma releitura
desta mesma idéia. Esta releitura, se por um lado impossibilita a
literalidade, estabelece as condições para um novo conceito de utilização
temática. As Variações sobre um tema de Thomas Thalis de William Walton
representam uma obra típica desta problemática.
De certo, quanto mais radical a diferença de idioma de um determinado
estilo para outro, maior a reorganização do código em que ele está
inserido. Para exemplificar alguns parâmetros objetivos em música,
poderiam ser citados: procedimentos rítmicos, harmônicos, melódicos,
timbrísticos e agógico. A área de interseção que contém estes parâmetros é
inversamente proporcional a estas diferenças de idioma. Quanto mais
distante um idioma do outro, menor a quantidade de elementos comuns.
No período tonal, as diferenças entre os estilos regionais e entre os
estilos de época não implicavam em uma completa reorganização do conteúdo
desta área de interseção. Ao contrário, elas apresentavam agregação e
ampliação dos elementos constituintes. Com o deslocamento do foco do
sistema tonal para outros modelos de linguagem harmônico-melódica e com a
não substituição desta por um novo padrão, tornou-se muito difícil
entender o sentido de procedimentos comuns, de estratificar as tangências
entre as diversas correntes. A tríade perfeita como motivo básico de um
tema, por exemplo, é utilizada virtualmente por qualquer obra tonal. Isso
não significa que todos os compositores tonais se copiam ou são pouco
originais, quer dizer apenas que ela é um elemento comunitário deste
sistema, um paradigma. A sua utilização em princípio, não representa um
gesto de plágio e sim a inserção de um elemento estrutural. Várias
analogias podem ser feitas no que diz respeito a ritmo e progressões
harmônicas. A inserção de elementos distintos, devido ao caráter
francamente individual das linguagens composicionais do século XX e início
do século XXI, dificulta a utilização literal de material não original.
Neste contexto, torna-se
apropriado então refletir sobre os conceitos de similaridade e igualdade
na música. Os seguintes exemplos ilustram diferentes aspectos da imensa
graduação de similaridade e identidade que uma idéia específica pode
produzir. Todos são extraídos de obras do repertório tradicional e, em
três graus diferentes, representam algumas das possíveis maneiras de
utilização de uma idéia não original.
Bach Minuetos BWV 114 anhang II/ BWV 115 anhang II
Exemplo de quase identidade. Motivo, Função Harmônica e contorno melódico
são 88% idênticos em uma forma de semelhança tendente à identidade.
Tratam-se, contudo, apesar da autoria do mesmo compositor, de obras
distintas e sem a proposta (pelo menos nominal) de ser uma variação. A
semelhança representada no exemplo abaixo é nitidamente visível:

Mozart Sonata K 576/ Bach
Prelúdio e Fuga nº. V do II Volume do Cravo Bem Temperado.
Uma citação quase que textual torna a percepção da similaridade como parte
da experiência auditiva. A Sonata K 576 foi composta para uma princesa da
Prússia, após um amplo contato e estudo de Mozart com a obra de J. S. Bach
entre 1787-1789. O recurso sonoro de expressão (instrumento de teclas)
reitera a intencionalidade. O desenvolvimento da sonata é um dos mais
polifônicos de todas as de Mozart, o que reflete uma escolha consciente do
tema e do Cravo Bem Temperado como paradigma de composição polifônica para
instrumento de teclas.
Mozart: Sonata K 576
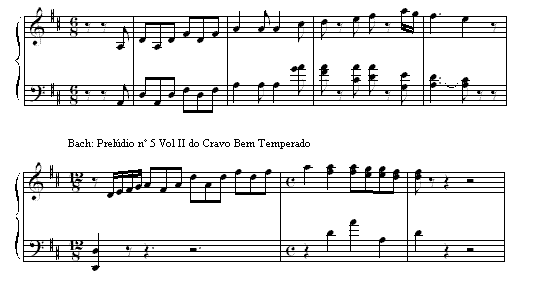
Brahms Sinfonia 4/ Mozart
Sinfonia 40
Similaridade pela idéia de terças descendentes que por si só era um
processo de “uso comunitário”. Semelhança pelo modelo da forma: ambos os
exemplos são Sinfonias, 1º movimento e em modo menor. Também a idéia de
instrumentação/sonoridade é sugerida pelas violas em divisi, realizando
arpejos como uma espécie de longínqua citação. Outra semelhança é a
inflexão para o VI nos segundos movimentos de ambas as obras como uma
conseqüência das notas iniciais que sugestionam esta possibilidade de
elaboração harmônica. O efeito final (a sonoridade resultante),
entretanto, é totalmente distinto. Não aparece nesta redução, mas as
madeiras exemplificam de modo muito claro nos contratempos a cadeia de
terças descendentes.

Estes três exemplos ilustram, de forma geral, diferentes técnicas de
utilização de uma idéia não original contextualizadas em cada época
(séculos XVIII e XIX, respectivamente). Cada vez mais a apresentação desta
idéia se afasta da literalidade, encontrando em recursos sutis e muitas
vezes não identificáveis auditivamente uma possibilidade de expressão,
condizente com a linguagem desejada do compositor.
A conclusão possível, de acordo com o que foi demonstrado nestes exemplos,
é de que a relevância da idéia geradora de uma obra (quando apresentada em
formas apropriadas à elaboração) é subordinada à elaboração da própria.
Pode-se dizer que em alguns contextos, a argumentação em si é mais
importante do que a conclusão. Pelo menos, existe um consenso em torno da
hipótese de que a maior virtude do compositor está na sua originalidade,
na sua fantasia e, principalmente, na sua habilidade de manipular e
elaborar organicamente as idéias por ele geradas.
Desta maneira, não existe sentido em associar a idéia do plágio à mera
apropriação de idéias musicais. Ele precisa ser muito mais do que isso,
precisa ser uma reprodução exata das possibilidades de elaboração e de
desenvolvimento, que, transformadas em realidade, em fato, irão denotar a
propriedade e a marca registrada do seu criador.
ERNESTO HARTMANN é compositor e professor de piano da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Em seu currículo conta com diversos
recitais internacionais, tanto solo como à frente de grandes orquestras.
Idealizador e organizador do Festival Bach 2000 e da
Orquestra de Câmara da Universidade Estadual de Minas Gerais, foi também coordenador do curso de Licenciatura em Música da Universidade do
Vale do Rio Verde até 2003.
voltar ao índice |
imprimir
|