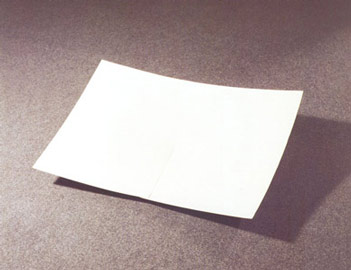|
|
revista |
editora | links | ||||||
|
|
|
werner aguiar o paradoxo do mito na cultura ocidental
Comecemos com o grego: por mais estranho que isso possa parecer, o ocidente atual se defronta com uma configuração de mundo originariamente ligada à experiência grega arcaica. Em que pese o predomínio da ciência e da técnica, da manipulação racional e do cálculo logístico do real, a presença concreta de questões originariamente pensadas na Grécia Arcaica mantém ainda hoje o vigor que movimenta, tensiona e dinamiza o real.
A guisa de exemplo, basta que nos detenhamos um pouco sobre questão da verdade. A tradição do pensamento ocidental desenvolveu uma compreensão radical da verdade como a adequação entre juízo e coisa, um tipo de relacionamento de correspondência e semelhança apropriado a modelar relação sujeito/objeto. A despeito dos diversos sistemas de processamento do real, físicos ou virtuais se apoiarem de maneira basilar sobre esta relação fundamental, permanece ainda o fato de tal ocorrência exigir, antes de tudo, que tanto juízo como coisa, tanto sujeito como objeto se manifestem e se re-velem como tais. Ora, revelar e manifestar, enquanto o modo radical do mostrar diz respeito à alétheia, isto é, a des-ocultação. A des-ocultação não é outra coisa senão o modo originário em que o pensamento grego arcaico apreendeu o real em seu vigor de manifestação. Essa manifestação jamais é plena, mas conserva no seu âmago o retraimento e a ocultação. Por isso, a alétheia, mesmo perdurando como horizonte onde a veritas ocorre necessita em nome desta última ser esquecida, já que a alétheia des-ocultando, oculta, des-velando, vela e re-vela. A alétheia manifesta o des-velamento auto-velante do ser.
Significa então que não somente a veritas exige o afastamento da alétheia em função de que correspondência e semelhança se dão num âmbito lógico-racional excludente, incapaz de abranger sua dinâmica, como também a des-ocultação requer por ela mesma a ocultação e o esquecimento. Ocultar e esquecer são constitutivos do manifestar. Esta, a compreensão originária do real.
Desse modo, ainda que se
argumente que experimentamos um pluralismo de idéias e uma abertura de
possibilidades no sentido de superar o rigor do formalismo, verifica-se
que o
A
A abstração conceitual do
mundo é uma ruptura com a tradição anterior levada a cabo com Platão ainda
na Grécia pré-cristã e permitiu que a Cultura Ocidental se embrenhasse num
percurso de
A
Daí a
Em que pese essa
conjuntura, pode-se
A tentativa de
compreender a
A cultura escrita da
clareza e da evidência, do correto e do semelhante subtrai o
No entanto, a tradição
cultural ocidental ofusca a obscuridade do mito fazendo brilhar
Na perspectiva do racionalismo evolucionista o mito se tornou objeto de análise na medida em que se deu por pressuposto que se referia aos primórdios do pensamento humano. Esse tipo de pressuposição cartesiana subentende que os começos têm de ser concebidos como os mais rudes possíveis, o que relegou o mito e as divindades arcaicas ao que, de acordo com um “pensamento” pretensamente mais evoluído, se denominou como falhas de ordem lógica do pensamento e da experiência primitiva. Por isso, o psicologismo foi a resposta da ciência no sentido de corrigir as tais imperfeições do pensamento primitivo ao tentar integrar o mito na experiência contemporânea sob a forma do arquétipo. Assim, de saída o psicologismo substitui a realidade cósmica do mito (que também implica o caos) pela alma humana, deixando-se seduzir pelo narcisismo do homem moderno em sua redoma de conhecimento. Na integração do mito ao arquétipo desvia-se então o olhar do mundo e das coisas para focalizar apenas para dentro do sujeito em si mesmo. A interioridade do homem passa à condição definitiva de ser instância de processamento e validação do mito. Há nisso um empobrecimento do homem atual “que por via de sua ciência e de sua técnica está a ponto de perder o mundo todo pelo gosto de ocupar-se exclusivamente de si mesmo” (Otto, 2006).
É preciso que se diga que o mito não é fruto de sonhos da alma, nem insumo dos arquétipos das profundezas do inconsciente. Fazendo surgir o ser das coisas à compreensão interpretante do homem, o mito manifesta as verdades do ser. O mito manifesta as con-fluências, di-fluências e re-fluências da Terra enquanto phýsis. Em suas emanações a Terra faz brotar o vivente na profusão dos seres, assim como os faz retornar ao âmbito de ocultação do não-ser. Por isso, na configuração de mundo em todo mito originário “um deus se revela junto com sua esfera vivente. O deus, como quer que seja chamado e como quer que se distinga de seus semelhantes, nunca é uma potência particular, mas todo o ser universal na revelação que lhe é própria” (Otto, 2006, p. 37). Desse modo, a divindade é uma forma primordial viva e sagrada com que o ser inefável do mundo faz sua aparição. “Só a prisca profundeza do ser, ao patentear-se, teve esse poder sobre os homens, quando estes rumo a ela se voltaram com os sentidos despertos e com franca disponibilidade para o que Goethe chamou de “a amplidão do divino” (Otto, 2006, p. 38).
"Tal como a própria existência, a fé primeva se liga à terra e aos elementos. Terra, geração, sangue e morte são as grandes realidades que a dominam. Cada uma destas tem o seu próprio círculo de imagens e possibilidades e não deixa reduzir-se por nenhuma licença da razão o rigor de seu aqui e agora" Por isso, "todas essas divindades se ligam à terra, todas estão relacionadas com a vida e com a morte; conquanto possam distinguir-se por suas características particulares, pode-se designá-las a todas como divindades telúricas ou divindades da morte" (Otto, 2005, p. 13). Há aí uma gigantesca diferença em relação aos novos deuses que nada têm a ver com a terra. Muito ao contrário, esses deuses estão fora da terra ou não são deste mundo. Sua vigência não somente é de outro mundo, como instituem a essência e o fundamento deste mundo em outro. Assim como os novos deuses, a nova consciência platônica também execra a Terra para instalar um mundo desprovido de corporeidade, um mundo genérico e abstrato apenas.
E, no entanto, a Terra é o corpo de todos os corpos e como primeira e primordial possibilidade de ser é a phýsis encarnada. Por isso, lemos em Sófocles, no primeiro coro na Antígona que Gaia é, "a mais antiga entre todos os deuses, a Terra eterna e inexaurível." Em que pese o fato de ser Kháos aquele que primeiro nascera e do qual a própria Terra tivera sua origem, percebe-se que a santidade da ordem telúrica é identificada na divindade arcaica como uma vontade sagrada do mundo elementar, cuja violação desencadeia vez por outra o seu ressurgimento ameaçador e repressor (Otto, 2005, p. 17). Daí não se estranhar o fato de a Terra cobrar a dívida de sua profanação. "O vigor instaurador do homem turba o repouso do crescimento, da nutrição e geração da Infatigável" (Heidegger, 1987, p. 176). A própria vida humana se encontra ligada umbilicalmente a sua ordem. Em outras palavras, sem a Terra, sem a possibilidade de todas as possibilidades de corporeidade e de corporificação, não há como sustentar a vida do próprio homem que se dá encarnada no seu corpo e no corpo da Terra.
Pelo fato do corpo ser parte decisiva na vida e não algo que possa ser considerado como estorvo morto em vida, na religião telúrica o morto não se separa da comunidade dos vivos, mas se torna mais poderoso e venerável, pois vive no seio materno da Terra (Otto, 2005, p. 21). A noção de corpo, conforme nos informam os dicionários, não se liga tanto ao que está vivo, mas fundamentalmente ao que está morto. O corpo morreu desde que o Mundo abandonou a Terra para viver exclusivamente nas esferas da representação. Não pensemos, entretanto, que isto é somente algo que ocorreu no ocidente platônico, mas mesmo no oriente distante a idéia de uma alma desencarnada grassou nas diversas religiões, a ponto de não somente lá, como aqui e hoje nos situarmos ante ao martírio e à penitência que negam ao corpo a plenitude da vida em comunhão com a psyché.
Contudo, a Terra não se curva ante o horror da negação do corpo. A Terra com-porta a vida e a morte que se dá no e com o corpo. Quando a terra, de tempos em tempos se faz mais fofa e brota a nova vida, eis então que os mortos regressam para serem solenemente acolhidos. Desse modo, o corpo per-siste num constante ir à e vir da terra (Otto, 2005, p. 21), o corpo permanece num ir e vir por entre o ventre do corpo sagrado e primordial, coisa que a própria cultura homérica, embrionária de uma cosmovisão ideal desconhece completamente, já que o corpo morto deve ser cremado. Nessa visão de mundo, a separação de vida e morte corresponde em Platão à consumação do mundo em Idéia, promovendo definitivamente a partição sensível/inteligível. Ao contrário, na dimensão telúrica do mundo, a terra é o duplo domínio da vida e da morte, onde a vivificação da morte corresponde solidariamente à mortificação da vida. O sagrado da vida e a santidade da morte se co-pertencem. Não é de se estranhar que germinalmente ideal a cultura homérica identifique totalmente os deuses olímpios com a vida apenas, deles dizendo que aborrecem o domínio tenebroso da morte. A própria vitória de Zeus sobre os Titãs indica uma cosmovisão que desarraiga Mundo de Terra, desfaz os laços entre as alturas olímpias dos céus e as profundezas ctônicas da terra.
E, no entanto, é do espírito da terra que surgem todas as bênçãos e todas as possibilidades de vida. A terra engendra o vivente e o acolhe quando chega sua hora. Por isso, no pensamento que pensa o telúrico, o maternal e o feminino têm a primazia sobre o masculino, subordinando-o. No pensamento da Terra as divindades arcaicas freqüentemente se manifestam em figurações teriomórficas, as quais se opõem tanto a visão homérica cujo Olímpo só admite divindades antropomorfas, como se opõe também a cosmovisão ideal platônica em que o divino sucumbe à clareza da visão racional do homem. E não obstante, o pensamento arcaico não excluir a representação divina antropomorfa, comete-se o equívoco de remeter a esse pensamento o conceito de "simples", quando na verdade ele é o menos simples. Mas este equívoco opera apenas a perda da compreensão das origens originantes. O principiar arcaico do ocidente manifesta a sacralidade telúrica na medida em que a divindade não está separada num Olímpo distante, mas se manifesta nas formas variadas engendradas pela própria terra - animais, plantas, rios, vento, nuvens. O divino não vivia, como os olímpios, no céu, mas em cima e em baixo da terra. Esta proximidade nos parece ser hoje o mais distante. E, contudo o mais distante se apresenta como o mais próximo: Zeus, ele mesmo foi gerado nas profundezas da terra e ocultado de seu pai. As Musas, aquelas que cantam as vitórias de Zeus, foram geradas em segredo com a potência ctônico-titânica da Memória. Desse modo, mesmo na extrema iluminação do Olimpo, permanecem vigentes as potências do não-ser, da obscuridade e do mistério como repositório de possibilidades não apenas dos deuses olímpios, que, diga-se de passagem, todos os principais manifestos a partir de uma ontocriptia, mas permanece o repositório de possibilidades da própria vida.
Desse modo, o psicologismo que deseja com sua estrutura tecno-científica integrar o mito a esfera da interioridade do sujeito pertence a um mundo radicalmente diferente daquele do mito, sendo-lhe vedado qualquer modo de apreensão originária deste. Na época de um mundo dessacralizado a Terra como natura se torna objeto de toda sorte de experimento científico. Seja pela via do esquecimento, seja através de sua con-versão em estados da alma humana ou ainda pela contaminação de um puro misticismo, o ser já não pode ser ouvido sem que coloquemos em questão a interrogação pelo próprio real. Da mesma forma, já em Platão encontramos a decadência do pensamento do mito ao qualificá-lo a partir da razão intelectual como absurdo ou como elucubração fantasiosa. Assim, ainda que compreendendo a acepção de mythos como palavra a porção pós-socrática da Grécia promove sua dessacralização através do pensamento lógico operativo e dito esclarecido, pois pré-figura-se já então a imagem do ser humano como o centro de oscilação do mundo. Por isso, é preciso que se compreenda que mythos não é de modo algum a palavra que fala de um passado longínquo, invencionado e sem fundamento, mas sim a palavra que fala do real. A palavra mítica fala do real porque ela fala o real. Falar o real significa pronunciá-lo e trazê-lo à linguagem, fazer vir o ser a sua plenitude de sentido, sua configuração concreta de mundo. O mito propriamente dito possui nesse sentido uma natureza incomparável, pois é dinâmico e dotado do poder de todos os poderes: constituindo o espaço e o tempo sagrados o mito intervém na vida plasmando-a. Pura plasmação da vida o mito manifesta a ontopoiésis do real.
Por isso, os deuses não podem ser inventados, nem concebidos, mas tão somente vivenciados (Otto, 2006, p. 19-20). Os mitos platônicos, por exemplo, são pura abstração no intuito de fundamentar princípios como o da representação e o da Idéia do Bem. O mesmo podemos afirmar a respeito das apropriações dos mitos gregos pelo psicologismo. Em toda apropriação indébita o mito cumpre apenas a função predeterminada de fundamentar uma formulação conceitual. Nada mais distante do vigor do mito do que fazer aqui e acolá formulações conceituais. Mas a interligação entre o ofício divino e a vida profana é realizada pelos deuses como potências da natureza (Otto, 2006, p. 21). Estas não são formulações conceituais ou morais, mas formas primevas da manifestação da phýsis cujo vigor engendra a cosmogonia do caos. O Mito manifesta o ser do mundo e "o que cada um dos deuses patenteia é sempre um mundo em sua totalidade. Pois em cada uma das revelações particulares que eles constituem encerram-se todas as coisas" (Otto, 2006, p. 122-3).
Por isso, ao contrário da tradição cultural ocidental posterior, o mito não somente diz respeito à concretude do real, mas ao manifestá-lo, compõe com ele as formas primevas com as quais dota o próprio mundo de sentido. E, embora o pensamento originário, ainda não teórico, não conheça corporeidade que seja pura matéria (Otto, 2006, p. 143), ao contrário do que poderia pressupor a concepção supra-sensível do real, a noção do antropomorfismo divino se torna decisiva para a compreensão da relação do mito com o homem e conseqüentemente com a corporeidade que também a cada vez é sua. "A encarnação, o milagre que se produz na própria divindade, é o caminho de toda revelação genuína". A encarnação é o milagre divino em que o mito grego se apresenta numa feição humana capaz de linguagem, isto é, capaz de dizer-mostrar o mundo mélico-ressoante. Por isso, o mito não é personificação de coisa alguma, mas aponta o essencial e o verdadeiro, isto é, manifesta e des-oculta o real. O mito não é um conceito abstrato do real, daí não personificar isto ou aquilo, este ou aquele. Em outras palavras, o mito não é uma abstração genérica que aqui e acolá se traveste de real (vide Otto, 2006, p. 111). O mito não é decorrência de um conceito abstrato que por vir posteriormente o personifica. Na verdade o mito precede o próprio conceito. "A figura mítica é o fenômeno originário". Como tal, é em primeiro lugar manifestação da phýsis e desse modo é ele que pode engendrar até mesmo o conceito. E, no entanto não o faz, pois o mito se dá como questão posta, é o real se dizendo-mostrando na sua plenitude de ser, de linguagem, de sentido. Assim, não é a realidade que manifesta o divino, mas o divino é que manifesta o real (cf. Otto, 2006, p. 112). O mito manifesta o real fazendo abrir os olhos e os ouvidos à visão e à escuta do originário, do que sempre a cada vez se desencadeia no concreto do vivente e do morrente, do cosmos e do caos, do ser e do não-ser. E se as potências ontofânicas que são as Musas enantiologicamente se situam no meio da potência do não-ser e da privação (Noite), trazendo junto à sua plenitude configuradora da Ordem e da Vida a Força originária da Negação (Torrano, 1995, p. 23), isso o fazem na medida em que o poder do mito concede e mundifica a phýsis na momentânea retenção do sentido do ser numa forma primeva (Musas). Assim, “a Musa é a deusa da fala verídica” (Otto, 2006, 49) não por abandonar o negativo e forçar correspondências e semelhanças do real ao dado positivo, mas por fazer convergir nela mesma – a Musa – tanto a glorificação do Olimpo, quanto a presença nefanda e abissal do kháos. O convívio dessas forças dinamiza o sentido do mundo porquanto tudo que se manifesta ainda assim está por se realizar, como um projeto sempre inacabado do ser no tempo. Nessa incompletude radicalmente constitutiva do real a Musa manifesta o sentido vertiginoso do conflito Mundo/Terra.
O corpo é então o lugar onde advém primeiramente esse sentido. Esse corpo não é mudo, informe ou inanimado, e muito menos idealizado, mas concentra nele a sonoridade gestual das formas do mundo em seu embate terrenal. O corpo fala. Fala a linguagem essencial da phýsis mundanizada desde as perspectivas tensionalmente originárias do kháos e da Terra. Na auto-manifestação mítica da divindade podemos distinguir três estágios, três aspectos cuja antropomofização dinamiza a realção mito/homem, Mundo/Terra.
Primeiro, a posição ereta para o céu, exclusiva e própria do ser humano. Walter Otto nos ensina que esse “é o primeiro testemunho do mito do céu, do sol e das estrelas” e que nada diz respeito ao biologismo evolucionista, mas pronuncia o mito manifesto pela tendência do corpo a erguer-se e cujo significado religioso já não lhe reconhecemos mais. Não obstante, o mito do mundo con-sagrado no corpo está presente nas atitudes imemoriais tais como “o ato de deter-se respeitoso ou fascinado (em latim: superstitio), o ato de erguer os braços e as mãos para o céu, ou ao contrário, o de inclinar-se e ajoelhar-se, o de juntar as mãos, etc.” Estas atitudes corporais não são ex-pressão de um ato de fé, mas re-velam o “divino no ser humano, são o próprio mito a manifestar-se”.
Em segundo lugar, o mito se manifesta enquanto figura no movimento e no fazer do homem. O mito dá-se no habitar poético do homem. “A marcha solene, o ritmo e a harmonia das danças, e outras coisas do gênero, tudo isso são auto-revelações de uma verdade mítica que quer vir a lume”. Da mesma forma, “ergue-se um marco de pedra, erige-se uma coluna, edifica-se um templo, esculpe-se uma esfinge”. Estes não são monumentos evocativos e simbólicos de uma outra coisa a ser concebida, sentida ou rememorada, mas “são o mito em si mesmo, isto é, a manifestação sensível do verdadeiro”, do que se des-oculta, do que mostra e diz o mundo, “cuja divindade quer tomar forma no visível” e no sonoro, assim como no gesto para neles viver. O mito quer vir ao encontro da linguagem. Por isso se faz necessário o devido cuidado para não remeter o mito exclusivamente para os gestos solenes de uma cerimônia religiosa. O mito, enquanto palavra necessita manifestar-se na pronúncia da linguagem. O mito nesse sentido é som e gesto. Desse modo, a pronúncia não se refere a fatos pretéritos, há muito transcorridos, cujo vigor originário se perdeu na fabulação ficcional dos chamados “primitivos.” Nada falseia tanto o mito do que essa idéia.
Sendo as enunciações o próprio acontecer do mito em seu eterno retorno, por fim cabe dizer “que o divino queira revelar-se pelo Verbo, é este o máximo acontecimento do mito. Assim como as posturas, os atos e as formações rituais são, em si mesmos, mito, também o enunciado sacro é, em si mesmo, manifestação da forma divina e de seu operar. Os desconhecedores do mito já na Antigüidade consideravam escandaloso o fato de essa forma ser antropomórfica; hoje, o escândalo é ainda maior. Imputam ao mito desinteligência e não se dão conta de quanto são falta de entendimento suas próprias premissas. Estimam necessário pensar o divino como, em si mesmo, livre de toda a corporeidade; mas não terá o divino de fazer-se humano quando quer revelar-se aos homens? Na verdade, não se trata de superstição; dá-se antes o contrário: aparecer o divino ao homem mostrando-lhe um rosto humano é o sinal da revelação mais autêntica” (Otto, 2006, p. 44).
O mito não simboliza, mas como aparição sonora do ser, é sua própria manifestação i-mediata. Com o mito, o nome, ele mesmo é o mito primevo. “O nome sonante é a primeira revelação do divino” (Otto, 2005, xvi). Desse modo, o divino não se sobrepõe ao natural como um poder soberano, mas se manifesta na própria forma do natural (Otto, 2005, p. 5). Ora, a forma do natural é o templo em que o mito constitui o mundo, cujo transbordar de vida e agitação lhe nutre o conhecimento que lhe é próprio. Portanto, o mito não é ele mesmo dotado de mundo, mas é ele quem dota o mundo de sua corporeidade. Corporeidade do mundo quer dizer, a densidade própria em que o desencadear do real se torna concreto. Esta experiência grega arcaica nos diz que os esforços do conhecimento sempre constituem referências ao mistério sem nome do real. A nomeação desse mistério para o grego se apresentava com a palavra phýsis, sem que isso, no entanto, significasse a dissipação ou diluição do próprio mistério. Muito pelo contrário, com a palavra phýsis o grego arcaico nomeava o mistério, fazendo perdurar o inaudito que na própria nomeação se oculta e permanece em segredo. Ora, o que conjuntamente a manifestação do real em seu fulgor de nomeação oculta e permanece em segredo, em latência, isto é o sem-nome do real. A nomeação do ser resguarda para o próprio ser o que permanece inaudito e inominado. Phýsis krýptesthai phílei. Esta é a sentença quase oracular que Heráclito nos legou no fragmento 123 e que podemos traduzir por “o ser ama encobrir-se”. Eis a ambigüidade inadmissível para a cultura lógico racional é o movimento todo próprio e característico de todo mito originário.
WERNER AGUIAR é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, tendo lecionado também na UFRN e na UERJ. Sua atuação acadêmica se desenvolve em torno do violão e das questões relacionadas à música e à poética. Doutor em Poética pela Faculdade de Letras da UFRJ, mestre e bacharel em Música/Violão pela Escola de Música da UFRJ, é co-autor dos livros A construção poética do real (2004) e A arte em questão: as questões da arte (2005). O autor dedica particular atenção à discussão interdisciplinar da música em interface com a filosofia, a hermenêutica, a poética e o mito.
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
confraria do vento |
|
||||||||